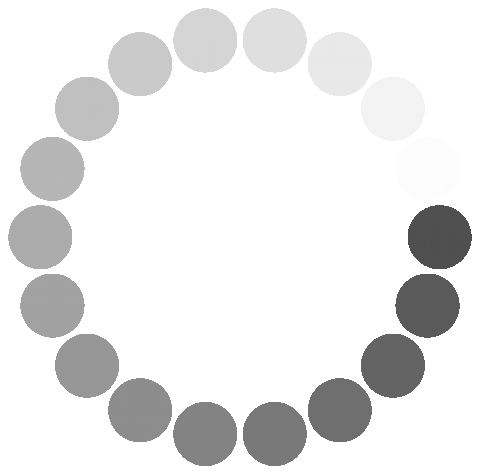Notícias
Gigante pela própria natureza
O maior programa de conservação de florestas tropicais do mundo não se faz do dia para a noite. Era 1992 quando o IV Congresso Mundial de Parques Nacionais e Áreas Protegidas, realizado na Venezuela, recomendou que 10% de todos os territórios nacionais fossem protegidos mundo afora. A ideia chegou ao Brasil e foi readaptada para se tornar um projeto grandioso, que se resumiria em apenas quatro letras: ARPA – Programa Áreas Protegidas da Amazônia.
A primeira organização a regar a semente do programa foi o WWF, que prometeu USD 30 milhões caso o governo brasileiro concordasse em proteger 10% da Amazônia. O valor, porém, não seria suficiente para tamanha ousadia. Coube ao biólogo Garo Batmanian – que abriu as portas do WWF no Brasil – correr atrás de mais recursos. Marcou uma reunião no Banco Mundial e saiu de lá com o dobro do dinheiro prometido.
Sessenta milhões de dólares era argumento suficiente para que o governo aprovasse a ideia de criar um grande programa de áreas protegidas para a Amazônia. Com a bênção oficial, Batmanian começou a fazer a costura política para que o projeto ganhasse vida, e entregou à bióloga Rosa Lemos de Sá, hoje à frente do Funbio, a missão de desenhar o projeto.
Rosa reuniu um time de consultores e começou a montar o imenso quebra-cabeça que daria vida ao ARPA. Enquanto isso, o americano Larry Linden – que ajudou a dar nome aos maiores grupos de consultoria empresarial do mundo, como Goldman Sachs e McKinsey & Co – elaborou voluntariamente um modelo de financiamento para o projeto.
Era trabalho que não acabava: foram cinco anos para que a arquitetura do programa fosse desenhada e consentida pelos inúmeros atores que acabaram abraçando a iniciativa. “Os primeiros três anos foram só de desenho e planejamento, indo atrás de outros doadores, conversando com o governo federal. E mais dois de negociação até a assinatura do contrato com todos os envolvidos”, conta Rosa, que na época era colega de Batmanian no WWF.
Quando tudo parecia estar pronto para o ARPA sair do papel, um último vendaval balançou suas estruturas. Até então, o programa prometia criar e consolidar apenas unidades de conservação (UCs) de proteção integral. Mas os movimentos sociais da Amazônia fizeram barulho, e reivindicaram que as UCs de uso sustentável também fossem incluídas.
O burburinho chegou aos ouvidos certos: à frente da Secretaria de Coordenação da Amazônia e amarrando as conversas sobre o programa no Ministério do Meio Ambiente estava Mary Allegretti. Amiga e parceira de luta do líder seringueiro Chico Mendes, a antropóloga vinha de uma longa trajetória junto às comunidades tradicionais da Amazônia. Recebeu com atenção os argumentos dos movimentos sociais e juntou na mesma mesa representantes do Ministério do Meio Ambiente, do WWF, do Banco Mundial e um grupo de seringueiros e quebradeiras de coco.
Foram mais de sete horas de conversa. Por fim, as Reservas Extrativistas (Resex) e Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) entraram na roda das UCs que receberiam apoio do ARPA. “Esta foi uma mudança chave para o projeto tomar corpo. Havia uma forte discussão entre priorizar as unidades de conservação de proteção integral ou as de uso sustentável. Ali deixou de ser uma ou outra. E o projeto dobrou de tamanho”, diz Rosa.
Depois de tantas idas e vindas, em 2002 finalmente o ARPA ganhava vida numa cerimônia do Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Nascia ali o programa que pretendia dar um impulso na criação de novas unidades de conservação na Amazônia e na consolidação daquelas que já existiam, protegendo um total de 50 milhões de hectares – número que depois pulou para 60 milhões.
“Podia ter dado tudo errado”, diz a bióloga Adriana Moreira, que ainda na década de 1990 liderou o desenvolvimento do programa dentro do Banco Mundial, e até hoje segue multiplicando a experiência para outras regiões e países. “Mas aos poucos as dificuldades foram superadas e hoje existe até um problema: as unidades apoiadas pelo ARPA são vistas como a elite das áreas protegidas no Brasil”.